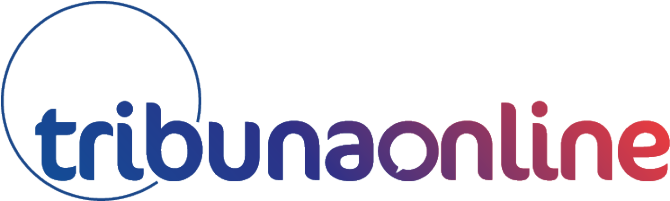A banalização nossa de cada dia
Há uma violência velada que atravessa a vida em sociedade e quase nunca vira manchete

Jaques Paes
Executivo, mestre em gestão empresarial, consultor, mentor de profissionais em transição de carreiras e professor do MBA de ESG e Sustentabilidade da FGV
Siga o Tribuna Online no Google


Há uma violência velada que atravessa a vida em sociedade e quase nunca vira manchete. Não é manifesta em episódios extremos, não há ruptura e é percebida como hábito.
Ela nasce da soma de permissividades discretas que acumulamos e deixamos corroer o tecido social, instalando-se em nossas omissões.
Essa violência não diz respeito a uma agressão covarde em um elevador, também não diz respeito à violência contra um professor que é acusado de um termo que talvez nem o acusador saiba o significado e a gravidade do seu teor.
Diz respeito a como evitar que a vida em sociedade se torne uma guerra de todos contra todos. Para responder a essa pergunta precisamos voltar a 1651, quando Thomas Hobbes respondeu com a metáfora do Leviatã, que não representa o estado de natureza, mas a saída dele.
O homem, colocado em permanente disputa guiado por medo, desconfiança e desejo de poder, aceita um pacto social: renuncia parte da sua liberdade em troca de segurança, na esperança de que ela seja garantida pelo Leviatã, que assume o papel de vigilante e regulador, tornando-o, ao mesmo tempo, garantia e ameaça; necessário, mas temível. Afinal, quem vigia os vigilantes?
Hoje, o Leviatã foi diluído. A função de impor limites se dispersa em instituições que não arbitram: apenas documentam.
A violência velada não é enfrentada, é protocolada. A empresa transforma assédio em compliance e expõe profissionais sem consentimento; a escola reduz humilhações a relatórios e transfere a culpa para a família; a autoridade trata assassino como suspeito; órgãos reguladores chamam crimes ambientais de “falhas operacionais”.
A violência pode ser velada, muda, mas nunca é cega. Quando um colega desvia o olhar, um chefe relativiza uma situação, quando uma humilhação é reduzida a “conflito interpessoal”, é o silêncio coletivo funcionando como escudo da omissão, libertando quem agride, quem viola, quem tira proveito.
A indiferença diante do intolerável já não choca, já é tratada como engrenagem da sociedade. Não há brutalidade visível, há consensos, há tolerâncias em nome de conveniências.
Vivemos expostos a agressões simbólicas e estruturais cada vez mais intensas, mas respondemos com passividade e relativização, aceitando os sinais de degradação.
Não são 61 socos em um elevador. Não é apenas a violência contra um professor — acusado com um termo tão grave quanto mal compreendido por quem o pronuncia. Não é uma denúncia que fere a reputação de um profissional.
É o “ato singelo”, o “ato normal”, que perfura a teia da sociedade, corrói o convívio e estabelece novos padrões, muitas vezes incontroláveis e normalizados pelo cansaço de uma sociedade incapaz de romper a inércia coletiva.
Hannah Arendt chamou de banalização do mal a indiferença que transforma o intolerável em rotina. Byung-Chul Han descreveu a sociedade do cansaço, onde a saturação reduz a disposição de agir.
Ambos nos lembram que a corrosão do convívio social não acontece no instante do colapso, mas no acúmulo de pequenas renúncias. É no cotidiano que se decide se a violência velada será enfrentada ou normalizada.
Assédio não é protocolo de compliance. Humilhação não é estatística. Profissional exposto não é dano colateral. Assassino não é suspeito. Tragédia não é falha operacional.
Assumir o incômodo de interromper o hábito não é heroísmo. É a recusa do silêncio que alimenta a violência; é estender a mão para ajudar quem está ao teu lado e talvez já não tenha mais força para falar, porque foi violentado de forma velada, exposto, julgado, mesmo sem o seu consentimento.
Quando a multidão se cala, cria uma incubadora de violência social — e domestica o Leviatã.
Continuo o assunto nas redes: Instagram: @jaquespaes; LinkedIn: in/jaquespaes
MATÉRIAS RELACIONADAS:




SUGERIMOS PARA VOCÊ:

Entre Prateleiras, por Jaques Paes
Executivo, mestre em gestão empresarial, consultor, mentor de profissionais em transição de carreiras e professor do MBA de ESG e Sustentabilidade da FGV
ACESSAR

Entre Prateleiras,por Jaques Paes
Executivo, mestre em gestão empresarial, consultor, mentor de profissionais em transição de carreiras e professor do MBA de ESG e Sustentabilidade da FGV

Jaques Paes
Executivo, mestre em gestão empresarial, consultor, mentor de profissionais em transição de carreiras e professor do MBA de ESG e Sustentabilidade da FGV
PÁGINA DO AUTOREntre Prateleiras
Esta coluna parte da ideia de que gestão, sustentabilidade, projetos e estratégia não vivem em gavetas separadas. “Entre Prateleiras” é o espaço onde essas fricções aparecem e onde decisões, narrativas e contradições se encontram. Seu propósito é trazer à superfície o que costuma ficar guardado para provocar conversas que façam diferença no mundo que a gente vê lá fora.